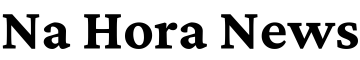Desgraçadamente desenterrada nos dias de hoje, a palavra “antissemitismo” merece um olhar cuidado. Ela está enraizada em crenças da nossa história e, por isso, fazem parte do nosso património. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra “antissemitismo” surge no português em 1899, no quadro do chamado “Caso Dreyfus” — capitão francês, judeu, erradamente condenado por espionagem — levando à redação do célebre manifesto J’acsuse, de Émile Zola.
Em Portugal, as primeiras décadas do século XX iriam levar ao prelo um significativo grupo de obras claramente antissemitas, imagem de sectores nacionais fechados, em franca sintonia com os mais cruéis regimes europeus da época.
Num olhar mais longo no tempo, o caso português tem de ser analisado à luz dos aspectos quase inconscientes que a língua, o léxico nos mostra. O adagiário revela como um certo antijudaísmo se encontra fortemente marcado na forma de ser e de se expressar (dizemos “fazer judiarias” ou ser “rabino” sem perceber a carga mental inerente ao adagiário). De resto, as marcas antijudaicas na História de Portugal são antigas e remontam, pelo menos, ao clima que de forma genérica atravessou a Europa no final do século XV e que resultou em inúmeras matanças um pouco por toda a Europa. Em Portugal ficou registada uma tentativa de matança em 1383, em Lisboa. Num clima de crescente intolerância o massacre de Lisboa de 1506 terá sido um dos seus momentos mais dramáticos, com a morte de, possivelmente, 4000 pessoas. Ao longo do século XV, os judeus foram transformados no bode expiatório de todos os males, fossem doenças e pestes, ou poços onde a água aparecesse inquinada.
Gravura representando o massacre de Lisboa de 1506
Wikimedia Commons
Mais tarde, a partir do século XVI, o trabalho sistemático do Tribunal do Santo Ofício na criação de uma fobia coletiva faria mais mossa no campo da criação de um clima de medo e de delação do que no número de mortos. Sangrenta, a Inquisição deixou a Portugal uma pesada herança na forma como nos transformámos numa sociedade de delação, de medo dos vizinhos, de verdadeiros bufos.
Definindo conceitos e marcando diferenças
Seguindo a linha do deicídio, o “antijudaísmo” nasceu primeiro. Culpados da morte do Messias, os judeus foram perseguidos por serem os responsáveis por esse crime, constantemente considerados um dos males do mundo.
No século XIX, este milenar antijudaísmo ganha corpo teórico numa visão biológica que é alimentada por sentimentos de medo e de fobia com base em preconceitos rácicos. O antissemitismo difere dessa noção, porque perdeu a carga religiosa e se abriu ao horizonte cultural e mesmo biológico. O antissemitismo existe porque vê nos judeus uma “raça” inferior.
Diferindo do antissemitismo, a noção de “anti-israelismo” é a que mais comummente deveria ser aplicada a todos os que hoje não se reveem no Estado de Israel, especialmente nas suas políticas. Este campo já pouco tem que ver com a religião, já pouco tem que ver com a visão de “raças” inferiores — em tudo tem que ver com uma delimitação de um Estado e com as suas políticas. Ser anti-israelita não implica uma posição antissemita.
O antissemitismo português de início do século XX
Em Portugal, os primeiros laivos verdadeiramente antissemitas, na mais correta acepção da palavra, encontramo-los próximos de um quadro ideológico nacionalista que se vai organizando na década de 1910 contra a implantação da República, grupos monárquicos, antiliberais e antimaçónicos.
No livro A República e os Judeus (2010) Jorge Martins considera o opúsculo Os Meus Cadernos (1913), da autoria de “Mariotte”, isto é, o padre Amadeu de Vasconcelos, como a primeira obra antissemita. Desta “raça maldita”, Amadeu de Vasconcelos aponta Guerra Junqueiro como a prova de judaísmo da República Portuguesa. Confesso “monárquico antiparlamentar, antiliberal e antijudeu”, aponta os judeus como um perigo: “Devemos vigiá-los com cautela, porque no primeiro conflito entre o interesse nacional português e o interesse cosmopolita do judaísmo, esses fingidos portugueses pôr-se-ão ao lado dos seus irmãos de raça contra nós.”
O ano de 1914 seria bastante importante na formulação do antissemitismo português. Hipólito Raposo publicava a Nação Portuguesa e António Sardinha, em edição de autor, O Sentido Nacional de Uma Existência/ António Thomaz Pires e o Integrismo Lusitano. Sardinha vocifera contra toda a mistura de gentes que os Descobrimentos implicaram, dando especial destaque à “porca infeção hebraica, de que não escapámos incólumes” (p.41).
Capa de O Sentido Nacional de Uma Existência/ António Thomaz Pires e o Integrismo Lusitano
António Sardinha (1887-1925)
No seu ideário, Sardinha associava os judeus à maçonaria, como, por exemplo, no livro Ao Princípio Era o Verbo, acusando Pombal de ser a origem de toda uma linha de degenerescência e de assalto à natureza cristã da identidade, acusando o Liberalismo de ser uma “forma espiritual do semitismo” e o capitalismo “de inegável extração talmúdica” (1940, p.p. XXII-XXIV). Tal como com o padre Amadeu de Vasconcelos, também Sardinha, na obra Durante a Fogueira de 1917, vocifera contra Guerra Junqueiro, “duas vezes judeu, por origem familiar e formação mental” (p. 140).
De resto, são inúmeras as obras deste autor em que abunda o seu ódio racista e antissemita, negando qualquer aspecto positivo do judaísmo na História de Portugal, associando-o a tudo o que hoje consideramos marcas da contemporaneidade. Mostrando da melhor forma o pensamento radical de Sardinha, negando qualquer aspeto positivo na evolução histórica, citamos o fim de um seu soneto, Madre Inquisição, retirado da obra Pequena Casa Lusitana (1927, p. 122):
Ó santa Inquisição, acende as chamas!
E no fulgor terrível que derramas,
Vem acudir à pátria portuguesa!
Em 1923, Francisco Pereira de Sequeira prefaciaria a edição portuguesa dos célebres Protocolos dos Sábios de Sião, uma muito conhecida falsificação antissemita originária da polícia política russa e publicada em 1903. Apesar de desde cedo ter sido apontada como uma fraude, esta obra foi, durante dezenas de anos, a bíblia ideológica do antissemitismo, a prova da conspiração judaico-maçónica para dominar o mundo.
Capa de Os Planos da Autocracia Judaica. Protocolos dos sábios de Sião, de José A. de Lemos e Francisco Pereira de Sequeira (Porto, 1923)
Em 1925, Mário Saa editava A Invasão dos Judeus. Mostrando o sentido da sua argumentação, começava o seu texto afirmando: “Uma coisa espantosa está acontecendo em toda a Europa que ameaça abraçar o mundo inteiro: essa coisa espantosa é a invasão dos judeus!” (p.7).
Para este autor, “Pombal fora a primeira afirmação dos judeus no poder”, tendo aberto o caminho à Revolução Liberal e depois à Republicana. Terminando a sua avaliação da presença dos judeus na Europa, Mário Saa apontava as formas de assalto à vida mental. Afirmando a perigosidade desta “raça”, “o judeu é um revolucionário de qualquer maneira: este é até um sistema psicológico de reconhecer a priori um cristão-novo”.
Outro marco notável na rebuscada panóplia retórica do antissemitismo em Portugal encontra-se na obra do homónimo do grande difusor do cristianismo, o Apóstolo dos Gentios. Em 1924, Paulo de Tarso terminava o seu livro Crimes da Franco-Maçonaria Judaica declarando: “Parece que a nossa sociedade burguesa e aristocrática está apavorada diante do papão de barbas postiças de lã de borrego, que é a corte maçónico-judaica [p. 11].” Juntando maçonaria e judaísmo em delirantes argumentações, era urgente o discurso panfletário que esclarecesse a população: “Somente queremos mostrar ao público o mal que vai invadindo o mundo, o perigo judaico, cuja força reside na maçonaria.”
Para Paulo de Tarso, os judeus são os responsáveis por todas as desgraças que advieram ao mundo desde a Revolução Francesa de 1789. Para tal, criaram a maçonaria, abominam a monarquia, assim como a Igreja Católica. Era “necessário fazer guerra sem tréguas aos judeus”. “[…] Fechem-lhes as lojas maçónicas e fechem-lhes as suas sinagogas […], a nossa tolerância, a nossa caridade é que tem feito mal.”
As heranças e o apagamento na memória
No sentido, na concretização de um ideário antissemita, a história portuguesa é, felizmente, não muito rica. Rapidamente engolidos e recriados pelo salazarismo, os meios monárquicos e miguelistas mais fechados perdem o escasso espaço político e social que desenvolveram durante a I República. De resto, Salazar iria gorar os desejos e anseios deste sector mais perdido no tempo.
Contudo, não sendo rica em momentos, obras e discursos claramente antissemitas, a história contemporânea portuguesa é herdeira do antijudaísmo e do antissemitismo em diversos e inquietantes aspectos. As obras de balanço da nossa visão do passado apenas recentemente deram um lugar à parte judaica da nossa cultura. Só as Histórias de Portugal coordenadas por Oliveira Marques e João Medina no último quartel do século passado apresentam capítulos ou volumes centrados nos judeus sefarditas.
Mas o preconceito é ainda mais subtil. Como Jorge Martins aponta num estudo publicado pela Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, em 2006, “a história dos judeus portugueses tem sido uma história invisível. Com efeito, os judeus foram praticamente obliterados da nossa história enquanto povo, o que se pode constatar facilmente através dos manuais escolares de História do ensino básico e secundário” (“Os Judeus nos Manuais Escolares”, Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 6, 2006, p. 223). De facto, ainda hoje é difícil perceber o escasso lugar que os programas e manuais escolares dão à herança que Portugal tem das suas comunidades judaicas. Em termos de memória colectiva, continua a ser algo que se prefere esconder, escamotear, em vez de valorizar.
Ora, uma fatia imensa da responsabilidade por esta situação encontramo-la, sem dúvida, na comunidade académica. Continuando a seguir Jorge Martins: “Uma boa parte da responsabilidade deve-se à frágil investigação portuguesa em torno da ‘questão judaica’ em Portugal, o que se reflecte no nosso sistema educativo.” (p. 223). Por mais ridículo que pareça, ainda hoje existe apenas um centro de investigação universitário dedicado a temática sefardita, a Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, fundada em 1996.