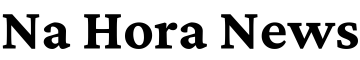Em Portugal, continuamos ocupados com a espuma dos dias, mas lá fora o mundo move-se e não o faz necessariamente no bom sentido. Os tempos que vivemos fazem-nos recordar, cada vez mais, os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, com uma escalada de tensão entre blocos antagónicos.
O cenário de uma guerra entre a NATO e a Rússia deixou de pertencer ao domínio do futurismo distópico. Sucedem-se os alertas nesse sentido por parte de governantes e líderes militares dos dois lados, embora possamos admitir que muitas dessas declarações não passam de bluff e visam criar a chamada ambiguidade estratégica, para gerar dúvidas.
A Rússia tem sido a campeã dessa ambiguidade estratégica, pela forma como persistentemente deixa no ar a ameaça de utilizar armas nucleares num eventual conflito com a NATO, combinando essas tiradas com declarações em sentido contrário por parte de Putin e outros responsáveis. Nesse sentido, a Rússia já “usou” armas nucleares na Ucrânia, uma vez que o simples facto de as possuir tem-lhe permitido condicionar – e muito – a ajuda ocidental a Kiev.
Embora, facto significativo, os países que aparentemente menos se deixem condicionar pela ambiguidade estratégica de Moscovo sejam, precisamente, os que melhor conhecem o imperialismo russo, como a Polónia, os bálticos e a própria Ucrânia. Estes países não têm medo das ameaças nucleares de Putin por considerarem que as mesmas não passam de “bluff”? Ou será que estão dispostos a correr o risco por conhecerem bem demais o preço a pagar pela capitulação perante o Kremlin?
Do lado da NATO, Macron e outros líderes aprenderam as suas lições e têm respondido à Rússia com declarações que visam criar ambiguidade estratégica, por exemplo, quando deixam no ar a possibilidade de enviarem tropas para a Ucrânia. Esta postura visa refrear o ímpeto da Rússia e contrasta com a que foi inicialmente adotada por Joe Biden, quando disse que procuraria evitar um confronto direto com Moscovo para não dar início ao que apelidou de “Terceira Guerra Mundial”.
Neste jogo de sombras existem, porém, algumas certezas.
A primeira é que, mesmo com os avanços que se deram nos últimos anos em termos tecnológicos, com mísseis hipersónicos e escudos balísticos mais ou menos eficazes, a Destruição Mútua Assegurada permanece válida. Washingon e Moscovo sabem disso.
A segunda é que não é possível infligir uma derrota estratégica a uma potência nuclear. Antes que isso ocorra, a Rússia utilizará armas nucleares. Resta definir em que consistiria exatamente uma derrota estratégica da Rússia no conflito na Ucrânia. Seria perder as províncias ocupadas, incluindo a Crimeia? Seria assistir ao colapso da economia, ao desabar do seu império euro-asiático e à queda do regime, à semelhança do que sucedeu à então URSS no final da Guerra Fria, quando deixou de conseguir competir com o Ocidente?
A terceira certeza é que, em caso de conflito entre a NATO e a Rússia, a Europa será o primeiro campo de batalha, com uma perda de vidas e um nível de destruição material sem precedentes.
De resto, de ambiguidade em ambiguidade, não podemos excluir um cenário em que se aplique a Lei de Murphy e tudo aquilo que pode correr mal acabe mesmo por correr mal, sobretudo se o Kremlin concluir que, com Biden ou Trump na Casa Branca (ou durante a eventual passagem de testemunho entre ambos), os EUA não irão retaliar caso a Rússia ataque a Ucrânia e os aliados europeus com armas nucleares táticas.
E se este impensável acontecesse, o que seria de Portugal? Na Segunda Guerra Mundial, Salazar manobrou habilmente e manteve-nos fora do conflito. Hoje, isto não seria possível. Seríamos um alvo militar e sofreríamos o impacto económico de uma guerra que causaria o pânico nos mercados financeiros, o disparo da inflação e o racionamento de energia, alimentos e bens essenciais. Esperemos que tal nunca aconteça, mas, just in case, devíamos preparar-nos para o pior, tal como fazem a Alemanha e outros países europeus.